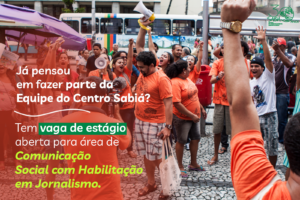Eu, mulher negra, e o conhecimento
Por Débora Britto (Terral Coletivo de Comunicação Popular)

Elaine Una é aprendiz da brincadeira do coco e mora em Amaro Branco, Olinda / Foto: Acervo Pessoal
A série Mulheres Negras: do centro à periferia segue para o fechamento com entrevista e reflexões sobre a mulher negra e a produção do conhecimento seja no mundo acadêmico, seja no universo das culturas populares, ancestrais, de preservação de tradições. A série construída em parceria entre o Centro Sabiá e o Terral Coletivo de Comunicação Popular como forma de marcar o mês da Consciência Negra expandiu olhares, impressões e lugares de falas de diversas mulheres negras que no campo, na cidade, nas periferias ou na universidade são e estão ao mesmo tempo no centro de suas famílias, movimentos, estudos mas que ainda sofrem a marginalização de uma sociedade patriarcal, machista e racista. Todos os textos da série foram escritos por jornalistas negras do Terral, que entrevistaram mulheres negras.
Elaine Una, mulher negra, aprendiz da brincadeira do coco, da comunidade do Amaro Branco, em Olinda, é uma dessas exceções que ocupam cadeiras, assinam pesquisas, reivindicam representatividade e repensam o papel do povo negro e, especialmente, o papel das mulheres negras dentro da Universidade.
Estudante de ciências sociais, constrói diariamente na comunidade em que vive a resistência e novas formas de autopercepção através da atuação no coletivo comunicação popular Plataforma Amaro Branco, trabalha como fazedora de cultura – como gosta de dizer – e ainda cuida de criar seu filho dono de uma energia contagiante.
Na sua comunidade, e na sua atuação política, assim como na academia, Elaine transparece a potência de quem sabe de onde vem, olha para o que a constitui e devolve para a sociedade a força e a importância da cultura negra. Dentro da universidade, se lançou a pesquisar sua própria cultura, a partir do seu local e sua ancestralidade e enfrenta diariamente as dificuldades para reconhecimento do saber tradicional como legítimo, vivo. Conversamos com ela sobre a condição de ser mulher negra nesse mundo – os desafios e os caminhos para a construção do conhecimento pela mulher negra.
A mulher negra e o conhecimento
Elaine Una: Como já é bem comum, mas não deveria ser natural, eu vim de uma família que teve pouco ou nenhum acesso ao estudo formal. Uma família de uma mistura étnica das três raças que foram o pilar da nossa miscigenação – que são os brancos, negro e indígena – mas ainda assim, mesmo com a presença da branquitude, de uma certa forma nós sempre fomos muito pobres. Até a geração antes da minha, minha família não teve acesso algum a universidade – o nível máximo que foi alcançado dentro da minha casa foi o ensino médio.
Viemos desse cenário, de pessoas pobres, que trabalhavam. Minha família, quase toda ela, trabalhou para a família Brennand, que é uma das famílias mais ricas de Pernambuco. Tanto em trabalhos serviçais, como nas fábricas, nas fazendas, como caseiro, cortador de lenda. Minha família morou em casas de Brennand por três gerações. Por esse contato com esse mundo que era muito fechado, mas ao mesmo tempo alguma coisa do conhecimento dito erudito estava disponível, uma parte da minha família conseguiu ter a dimensão de que esse conhecimento estava lá disponível, mas que era preciso tentar alcançá-lo.
Eu não fui criada pela minha mãe biológica, eu fui criada por uma tia avó que quando eu tinha um ano de idade me adotou de forma amigável – minha mãe é sobrinha dela – e essa minha tia foi uma das que nasceu no âmbito dos Brennand, mas que tinha muita sede de conhecimento. E ela, durante toda a minha infância, embora eu tenha convivido sempre com restrições financeiras, ela se esforçou bastante e consegui ter um estudo de boa qualidade. Mas para além disso, dentro da minha casa por conta dessa minha mãe eu sempre fui muito estimulada a ir atrás do conhecimento como forma de poder, de apropriação, de auto segurança. Foi dessa maneira que eu cresci dentro dos estudos e me mantive.
“Sempre fui negra”
Nunca não me reconheci como negra, embora durante muito tempo da minha vida eu não conseguisse transpor essa certeza étnica que eu tinha. Não conseguia essa certeza íntima. Por exemplo, para alguns posicionamentos políticos, para a questão da imagem, da minha identidade visual. E isso também foi um processo de conhecimento. Mas sempre fui negra.
A partir do momento em que eu adentrei às culturas populares eu comecei a observar o conhecimento de uma maneira que não era uma perspectiva academicista, mas esse conhecimento do saber e do fazer tradicional, que foi fundamental. Eu não saberia conceber o conhecimento de outra forma que não o modo como eu acompanho os mestres e as mestras com os quais eu convivo. Com as pessoas da minha religião, que tem o conhecimento como fonte de tudo.
Mas muito nessa perspectiva de autonomia do conhecimento, de nos amparar no conhecimento dos mais velhos, de saber que a fonte do conhecimento é primária e logo depois vem a sistematização, então é o mesmo conhecimento talvez da academia, mas observado de forma inversa. É um conhecimento que mora nas pessoas, que está nas pessoas, que está nas coisas, que está na natureza, que está na nossa cosmovisão e que a partir disso, de ela estar disponível, de esse conhecimento estar disponível, é que ele vai ser descoberto, que ele vai ser sistematizado, academicizado, então a minha relação de conhecimento passa prioritariamente por esse conhecimento que a academia tem chamado de empírico, de certa forma.
Reconhecimento da produção científica e a mulher negra na academia
Embora creia-se que a universidade esteja aberta por conta da grande quantidade de pesquisas sobre o tema, é importante ressaltar que são poucas as pessoas que vivem as culturas populares, que são as culturas populares, que são as pessoas que estão fazendo essa pesquisa. Justamente por conta de todo esse panorama da nossa educação, de que a universidade ainda não é acessada pelo preto, pobre enquanto discente e ainda não é o espaço do mestre e da mestra do saber tradicional enquanto docente. É importante que se diga isso. A partir disso, nós das cultura populares enfrentamos dois dilemas: enquanto aluno pesquisador, primeiro do acesso à universidade, e segundo de conseguir fazer uma pesquisa que contemple aquilo com o qual você se identifica.
A minha pesquisa é na área das ciências sociais e da antropologia e fala da minha própria comunidade. Para a universidade, para a academia, isso é ir de encontro à postura do pesquisador ele viver, vivenciar cotidianamente aquilo que ele pesquisa pela afirmação de que é preciso manter a imparcialidade. Ora, veja, neutralidade é uma coisa que não existe.
A segunda questão é que a gente ter a chance de estar na academia falando da nossa comunidade, analisando a nossa realidade à luz de outros teóricos já é uma outra questão de não contemplação dos populares e negros… mas é um bônus estarmos ali com propriedade do que falamos. E é claro que se estamos na academia a gente conseguiu criar consciência crítica de que é necessário estarmos num posicionamento em que as emoções em relação aquilo que a gente está estudando sejam sempre reavaliadas.

Para Elaine, apesar dos desafios, as mulheres negras devem estar nos espaços de construção
do conhecimento / Foto: Acervo pessoal
Ancestralidade e resistência do conhecimento
Estar dentro da universidade e estar constantemente propondo que eu estude aquilo que é minha realidade é sempre um desafio perante a academia. E é um desafio que eu, enquanto mulher negra das culturas populares, tenho enfrentando e que não tenho deixado passar. Enfrentei e enfrento muitos “nãos” em estar na academia, muitos “nãos” em estar na minha pesquisa por defender essa postura. Muitos cursos que eu pleiteei para mestrado eu não entrei porque eu mantive essa postura de que ia estudar minha comunidade, estudar a realidade que eu faço parte. Então eu tive muitos “nãos” categóricos por isso. Por eu não estudar o outro, o lugar eu não pertenço. Mas dentro do que eu entendo como conhecimento, é exatamente isso: eu não poderia estudar uma outra realidade que não fosse a minha. Ao contrário disso eu estou indo de encontro com o que eu acredito ancestralmente para o que sirva o conhecimento.
É uma perca muito grande de saberes quando a gente rechaça o conhecimento que vêm de mestres e mestras populares nesse diálogo que precisaria existir com a universidade. São saberes ancestrais, que basearam a relação de trabalho do início, no ofício, no dom. A partir do momento em que as relações sociais e trabalhistas foram transformadas em um ensino mecanicista começou a desconfigurar toda essa relação. O que a gente chamava de ofício, que partia de um dom, de uma vontade de fazer, acabou se tornando atividade de quem não tem o conhecimento formal. E que, portanto, é uma atividade menor, menos importante, de menor valor. Quando na verdade os ofícios e saberes tradicionais estão no topo, ou deveriam estar no topo, das relações trabalhistas.
Dentro da academia faltam referências
Historicamente a gente sabe que as produções são eurocêntricas, os livros que a gente estuda 95% são de produções eurocêntricas. A gente tem exemplos excepcionais como Milton Santos, mas é a exceção. O negro enquanto produtor do conhecimento, com destaque, e que a academia abraça e visibiliza é a exceção. Não é a regra.
Estamos falando de negros, mas muito pior é a situação dos povos indígenas, originários. Principalmente do Brasil. Não há representatividade. A gente não consegue encontrar dentro daqueles livros e daquele estudo teorias que representam também a nossa realidade porque ela não foi estudada por quem poderia ter a sensibilidade, por quem tinha o lugar de fala de representar. Apresenta-se aí mais um problema que é não estudar questões eurocêntricas ou que não seja pela visão eurocêntrica. A gente não encontra material em que a gente possa se reconhecer. Porque mesmo que qualquer branco antropólogo maravilhoso tenha falado sobre nós, ninguém poderia ter falado melhor sobre nós do que nós mesmos.
A corporalidade da mulher negra na academia
Elaine Una: Eu acredito que o espaço acadêmico precisa ser ocupado por nós, mas a gente sempre precisa estar refletindo o tipo de ocupação que a gente promove. O que a gente tá visibilizando, como a gente se porta principalmente frente aos desafios nesses espaços. Eu já tive enfrentamentos porque sou mulher, negra, e por querer pesquisar minha comunidade que foram nãos sumários, que foram descarte de minha pesquisa porque ela não contemplava esse lugar distante em que o pesquisador precisa estar. E dentro de muitos outros espaços do conhecimento obviamente já foi rechaçada por ser mulher, ser negra, ser jovem e por ousar ter conhecimento e por ousar ter o empoderamento de que eu tenho conhecimento e me utilizar dele para definir meu espaço. Apresentar meu lugar de fala.
Os desafios são cotidianos. O que eu acredito que seja uma postura importante que principalmente nós mulheres negras tomemos diante de toda essa situação é uma postura de autonomia, de empoderamento desse conhecimento, desse lugar, desse saber que a gente carrega com a gente. É uma postura. Quando a gente fala em negritude nas formações que eu vou dar eu costumo fazer a junção da falava negra com atitude. Negritude é estar consciente do que é ser negro na perspectiva histórica social do nosso país e assumir cotidianamente essa postura.
Assumir esse lugar de importância histórica na construção desse país, ter essa ciência e ter esse orgulho e extrapolar, transparecer, é um dos primeiros passos. Opressão a gente já sofreu demais. Apontar o dedo para o irmão e para a irmã preto e preta e dizer que ele é acomodada/a, dizer que a academia não é o espaço dele porque as nossas lutas são outras eu acho que é nos tirar um lugar em que o conhecimento e relações de poder fortíssima do mundo são tramadas, conciliadas, desenvolvidas. Nós não podemos nos abster de estar nesse espaço mais. A gente não pode viver num mundo paralelo, a gente não pode formar nos nossos guetos, os nossos quilombos e não dialogar e ocupar os espaços aonde todas as políticas, toda a construção de conhecimento vai afetar diretamente a gente. A gente tem que procurar os nossos modos de vida, sim, procurar os nossos “quilombos”, mas a gente precisa estar consciente de que a gente está em sociedade e tem que ocupar e dialogar com esses espaços.
Que bom ter você por aqui…
Nós, do Centro Sabiá, desde 1993 promovemos a agricultura familiar nos princípios da agroecologia. Nossa missão é "plantar mais vida para um mundo melhor, desenvolvendo a agricultura familiar agroecológica e a cidadania". Seu apoio através de uma doação permite a continuidade do programa Comida de Verdade Transforma e outras ações solidárias e inovadoras junto ao trabalho com crianças, jovens, mulheres e homens na agricultura familiar.